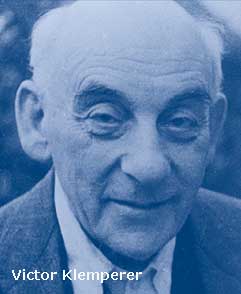 Instigado
pela provocação da Josélia, deu-me vontade de reler
os diários de Klemperer, um dos tais que eu levaria
para a ilha deserta. É um tijolo de quase 900
páginas que se lê com prazer e angústia, sentimentos
nada incompatíveis, pois para narrar sua tragédia
descomunal o autor se serve de uma linguagem mais
que bela: despojada. Victor Klemperer (1881-1960),
judeu-alemão, mais alemão que judeu, filólogo e
homem do mundo, fez das tripas coração durante o
tenebroso reinado de Hitler (1933-1945). Desalojado
de seu posto na universidade de Dresden, foi posto
para fazer trabalhos manuais em fábricas, e em certa
ocasião teve de ajudar a remover a neve das ruas do
próprio campus onde ensinava literatura francesa,
sob o olhar constrangido dos colegas de cátedra.
Tinha já mais de 60 anos. Instigado
pela provocação da Josélia, deu-me vontade de reler
os diários de Klemperer, um dos tais que eu levaria
para a ilha deserta. É um tijolo de quase 900
páginas que se lê com prazer e angústia, sentimentos
nada incompatíveis, pois para narrar sua tragédia
descomunal o autor se serve de uma linguagem mais
que bela: despojada. Victor Klemperer (1881-1960),
judeu-alemão, mais alemão que judeu, filólogo e
homem do mundo, fez das tripas coração durante o
tenebroso reinado de Hitler (1933-1945). Desalojado
de seu posto na universidade de Dresden, foi posto
para fazer trabalhos manuais em fábricas, e em certa
ocasião teve de ajudar a remover a neve das ruas do
próprio campus onde ensinava literatura francesa,
sob o olhar constrangido dos colegas de cátedra.
Tinha já mais de 60 anos.  O
heroísmo de Klemperer não estava na coragem, mas na
resistência silenciosa e tenaz a um governo de
assassinos. Incapaz de afrontar os capacetes de aço,
travou uma guerra particular com a história, jurando
deixar seu depoimento para a posteridade. Os diários
causaram grande impacto quando publicados na
Alemanha em 1995. No Brasil apareceram em 1999, em
bem cuidada edição da Companhia das Letras. Um livro
de Klemperer não traduzido no Brasil, o clássico
Linguagem do Terceiro Reich, é uma das obras de
cabeceira de Roberto Romano, possivelmente o maior
filósofo brasileiro vivo, que o lê diretamente em
alemão. O
heroísmo de Klemperer não estava na coragem, mas na
resistência silenciosa e tenaz a um governo de
assassinos. Incapaz de afrontar os capacetes de aço,
travou uma guerra particular com a história, jurando
deixar seu depoimento para a posteridade. Os diários
causaram grande impacto quando publicados na
Alemanha em 1995. No Brasil apareceram em 1999, em
bem cuidada edição da Companhia das Letras. Um livro
de Klemperer não traduzido no Brasil, o clássico
Linguagem do Terceiro Reich, é uma das obras de
cabeceira de Roberto Romano, possivelmente o maior
filósofo brasileiro vivo, que o lê diretamente em
alemão. Não imaginava encontrar tão cedo outro livro capaz de me segurar madrugadas adentro, como aconteceu com o Klemperer. Pois tive sorte: encontrei dois. No começo deste ano descobri os diários de José Carlos Oliveira (Diário selvagem, Civilização, 2005). O cronista Carlinhos Oliveira, que viveu apenas 51 anos (levou-o uma pancreatite em 1986), também travou sua batalha particular, não num gueto, mas nos bares de Ipanema. Para quem sonhava ser o maior escritor brasileiro (“maior que Machado de Assis”), escreveu obra curta e desigual. Mas levou vida intensa e neurótica, o que não constituiria vantagem alguma não tivesse ele registrado com minúcia o seu drama cotidiano. Talvez possa ser colocado ao lado de Lima Barreto e João Antônio.  O
outro livro tem por título O nariz do morto
(Civilização, 2006), uma espécie de autobiografia da
alma, da alma de
Antonio Carlos Villaça
(1928-2005), autor que me soava cult mas não
indispensável. Estava enganado. Trata-se de
obra-prima. Livro soberbo, livre, desataviado e
centrado na busca íntima. Rico de humanidade. Dos
mais envolventes que li nos últimos anos, uma
história de transe pessoal, sincera e pródiga,
corajosa mesmo, qualidades que só encontrei nuns
poucos, por exemplo em Henry Miller e em Klemperer.
O nariz me foi enviado pelo crítico André Seffrin,
que conviveu com Villaça nos últimos anos da vida
deste, no Rio de Janeiro. Villaça morreu num asilo,
pobre e magro, ele que foi gordo a vida toda. “Era
totalmente inábil para a vida prática, só sabia
escrever e falar”, me conta Seffrin. “Era incapaz de
trocar lâmpada”. O
outro livro tem por título O nariz do morto
(Civilização, 2006), uma espécie de autobiografia da
alma, da alma de
Antonio Carlos Villaça
(1928-2005), autor que me soava cult mas não
indispensável. Estava enganado. Trata-se de
obra-prima. Livro soberbo, livre, desataviado e
centrado na busca íntima. Rico de humanidade. Dos
mais envolventes que li nos últimos anos, uma
história de transe pessoal, sincera e pródiga,
corajosa mesmo, qualidades que só encontrei nuns
poucos, por exemplo em Henry Miller e em Klemperer.
O nariz me foi enviado pelo crítico André Seffrin,
que conviveu com Villaça nos últimos anos da vida
deste, no Rio de Janeiro. Villaça morreu num asilo,
pobre e magro, ele que foi gordo a vida toda. “Era
totalmente inábil para a vida prática, só sabia
escrever e falar”, me conta Seffrin. “Era incapaz de
trocar lâmpada”. Outros livros que li recentemente e me marcaram: Amor e lixo, do tcheco Ivan Klima, Longe daqui, aqui mesmo, de Antônio Bivar (o nosso Jack Kerouac), Carta a D., de André Gorz (magnífico), A viagem vertical, do espanhol Enrique Vila-Matas, e, de J.M. Coetzee, talvez o grande romancista de nossa época, li de uma enfiada três livros: Vida e época de Michael K., Elizabeth Costello e O mestre de Petersburgo. Teria imenso prazer de falar sobre cada um deles, mas fica para outra ocasião.
|